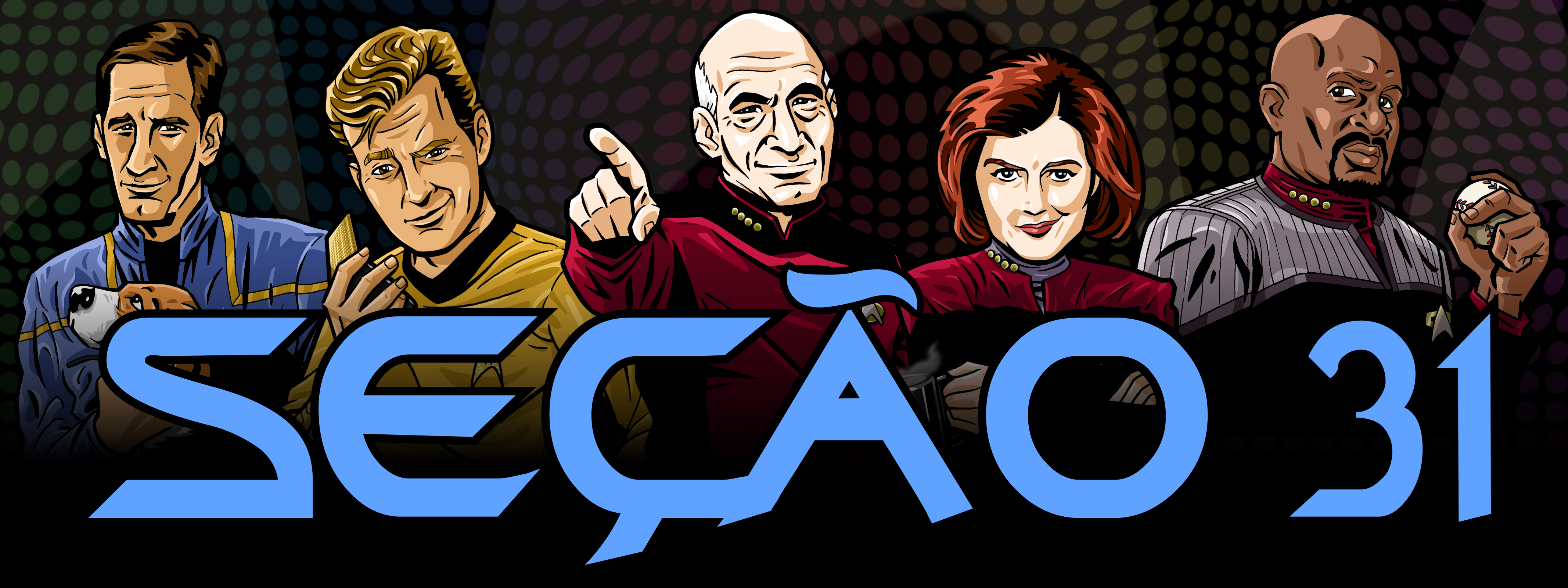Mulheres em Dobra
O papel da mulher em Star Trek
| por Roberta Manaa (edição e revisão: Waldomiro Vitorino)
A convite do querido amigo Naelton Araujo eu participei da programação de comemoração aos 50 anos da nossa série preferida no dia 7 de setembro de 2016. A equipe do Planetário da Gávea no Rio de Janeiro realizou, em parceria com o Clube de Leitores de Ficção Científica e com a Academia da Frota Estelar Rio de Janeiro, o evento no qual Denise Chehab Lasmar e eu palestramos, com mediação de Flávia Lima, sobre o papel da mulher em Star Trek.
 Num dia de manhã, entre um chimarrão e outro, conversava com o amigo Victor Hugo que, relatando sobre suas aulas do jornalismo, contou do professor que falava de um tema que sempre foi do meu interesse, o imaginário social. Ele descreve o imaginário social como estruturante e intangível. Sintético e explicativo: vivemos submersos em uma miríade de imagens, textos, sons, subtextos, discursos, cores, cada um colocado aí com a intenção de nos passar alguma mensagem. Dificilmente só um deles foi o responsável pela definição de suas convicções acerca de qualquer tema. Algum pode ter sido o momento da virada, mas certamente outros abriram o caminho. Se você acredita na igualdade de direitos, aposto que não conseguirá definir o exato discurso que ouviu ou notícia que leu que lhe levou a concluir que a igualdade é uma questão de justiça, não de privilégio de um grupo em detrimento de outro.
Num dia de manhã, entre um chimarrão e outro, conversava com o amigo Victor Hugo que, relatando sobre suas aulas do jornalismo, contou do professor que falava de um tema que sempre foi do meu interesse, o imaginário social. Ele descreve o imaginário social como estruturante e intangível. Sintético e explicativo: vivemos submersos em uma miríade de imagens, textos, sons, subtextos, discursos, cores, cada um colocado aí com a intenção de nos passar alguma mensagem. Dificilmente só um deles foi o responsável pela definição de suas convicções acerca de qualquer tema. Algum pode ter sido o momento da virada, mas certamente outros abriram o caminho. Se você acredita na igualdade de direitos, aposto que não conseguirá definir o exato discurso que ouviu ou notícia que leu que lhe levou a concluir que a igualdade é uma questão de justiça, não de privilégio de um grupo em detrimento de outro.
Você, enquanto indivíduo e nós, enquanto sociedade, somos fruto de uma inundação de informações que formam nossas consciências quando, em contato com nossas características individuais (criação, caráter, biologia) são absorvidas ou descartadas. Lógico que o processo é bem mais complexo, mas o básico vai nessa direção: o que é absorvido e o que é descartado formam a maneira como pensamos e agimos. Se a maior parte das pessoas é favorável à igualdade, essas pessoas agirão e apoiarão atitudes que levem à melhor distribuição de renda, que deem chances iguais a todos. Dessa forma, o imaginário coletivo é estruturante: ele estrutura a forma como nos comportamos. Por vivermos em uma sociedade machista, ouvimos pessoas esclarecidas dizerem que comportamentos claramente baseados em discriminação de gênero têm outras razões, porque “machismo é coisa da cabeça das mulheres” e as discussões sobre atitudes sexistas são varridas para baixo do tapete porque “o mundo está cheio de caras legais… tipo eu”. Assim, muitas vezes nossos pleitos por representação adequada são encarados como “mimimi”, já que “os homens também são mal representados e me criei mesmo assim”. Nem vou desatar esse nó porque essa conversa vai longe…
Para falar nos 50 anos de “Jornada nas Estrelas” eu não deixaria de lembrar de episódios icônicos da Nichelle Nichols. São nossas conhecidas as histórias de como Martin Luther King Jr. avisou à atriz que ela não poderia desistir da série porque ela recebeu o primeiro papel não tradicional, não estereotipado, que estava mudando as mentes das pessoas ao redor do mundo. E como Whoopi Goldberg, aos nove anos, descobriu que poderia ser o que quisesse porque enxergou na televisão uma moça negra que não era empregada. Talvez um pouco menos contada é a história do rapaz skinhead de 18 ou 19 anos que foi a uma convenção. Esperando na fila de autógrafos para falar com a atriz, vestido e tatuado como um skinhead, colocou os seguranças em estado de alerta. Chegando sua vez, a avisou: não estava lá como um fã. Foi na convenção para que Nichelle soubesse que Uhura mudou a forma daquele homem pensar e agir. Confessou ter feito coisas horríveis das quais se arrependia e esperava obter redenção. Essa história é contada pela atriz ao nosso astrofísico favorito, Neil deGrasse Tyson:
http://www.startalkradio.net/show/a-conversation-with-nichelle-nichols/
Na “Nova Geração” temos Tasha Yar, uma mulher exercendo o papel incomum de chefe de segurança. Logo na primeira temporada a personagem teve uma morte pouco digna. “Mas ela quis sair”, aposto que você vociferou. Sim. E nesse momento convoco-os a filosofar sobre o sentido da vida e refletir sobre a inexorável flecha do tempo que – ao contrário do que acontece com os alienígenas do buraco de minhoca e com as entidades Q – para nós, humanos, anda em sentido único. Habitantes livres de uma sociedade capitalista, nós podemos livremente optar por não trabalhar e ser moradores de rua. Ou podemos fazer como a maioria, trabalhar para adquirir o básico: moradia, comida, remédios e, depois de suprir o mínimo, buscar lazer, cultura, segurança. O que o trabalho – livre – significa? Você vende seu tempo por um valor normalmente irrisório. Tempo que você não terá de volta. Trocando em miúdos, a maior parte do tempo útil da nossa existência será gasto em tarefas que provavelmente não gostaríamos de realizar se tivéssemos opção e que, talvez, consideremos inúteis. Mas tem um punhado de pessoas que decide arriscar e virar artista. Desses, alguns são atores e atrizes. Sabem que vão passar perrengue, mas é pra fazer o que gostam com o breve tempo que têm na terra. Daí entra a Denise Crosby, que escolheu essa profissão difícil. Durante vários episódios não tinha uma mísera linha. Chegou a sugerir que se fizesse um modelo das suas pernas, já que às vezes passava o dia inteiro em pé e, na tela, só se via um par de calças. Quem culpa a atriz por buscar um trabalho mais significativo? TNG tem episódio com Doutora Crusher sozinha na Enterprise salvando o dia. Tem Deanna Troi estudando os caminhos dos Tubos Jefferies e percebendo que, no final, comandar pode significar mandar amigos pra morte. Enfim, TNG tem salvação no quesito representação feminina.

Poderia comentar sobre um monte de outras coisas, mas vou falar um pouco de “Voyager”, série que divide opiniões e, na questão de representação, me salta aos olhos. Garrett Wang, alferes Harry Kim, disse em entrevista que quando o primeiro episódio de “Voyager” foi ao ar o estúdio recebeu várias cartas de ameaça de morte aos atores e produtores envolvidos na série por motivos de … capitã. Sempre penso que se um grupo tipo “Homens Unidos em Defesa da Macheza Frágil” se une contra um produto da mídia de massa é porque alguém está fazendo alguma coisa certa.
Quando uma mulher assiste um filme, uma série, lê um livro, a probabilidade de que tenha que se colocar no lugar de um protagonista homem para viver aquela aventura é enorme. Ao se colocar no lugar de outra pessoa, exercitamos nossa capacidade de empatia. Quando vimos reações viscerais a uma protagonista, temos uma das consequências da incapacidade de empatia: garotos mimados não conseguem e tampouco estão dispostos a se colocar no lugar de uma pessoa tão diferente deles mesmos.
“Roberta, na verdade eu não gosto dos roteiros/da premissa de Voyager”. Justo. Todavia, tratamos aqui de um assunto subjetivo, este de gostar ou não gostar. Você sequer precisa de um motivo palpável para não gostar de algo. E mesmo que diga que não gosta dos roteiros, isso é bastante subjetivo. Mas vamos falar nos roteiristas: Gates McFadden pediu aos escritores que escrevessem para um doutor genérico, pois toda vez que tentavam escrever uma médica mulher, os roteiros eram sofríveis. Não duvidamos (basta lembrar de alguns episódios da Troi).
Juntando os pontos: temos homens que nunca precisaram se colocar no lugar do diferente, pois raramente um protagonista não é homem, branco e heterossexual. Esses homens, que só sabem escrever personagens femininas bidimensionais, compuseram 89% dos roteiristas dos 250 filmes americanos de maior bilheteria de 2014, segundo estudo da Dra. Martha Lauzen, “Women and the Big Picture” (www.nywift.org/article.aspx?id=5770). Pensa na probabilidade de resultado: uma protagonista mal construída, apesar da boa vontade dos produtores. Além disso, temos que distinguir entre o preconceito de gênero e não gostar da série em si. Se fosse um capitão com as mesmas linhas, você seguiria não gostando? Pelo menos tem gente honesta que diz: “não gosto porque é mulher e só segui vendo porque apareceu a gostosa da Seven”. O cara tem direito a ser preconceituoso, né? Pelo menos ele sabe que só curte a camada mais superficial de “Jornada” e acha a ideia Roddenberriana de abraçar as diferenças uma grande besteira.

Eu adoro “Voyager”, adoro a Janeway e acho que você, quando olhar a série de novo, deve lembrar do número de meninas que viram B’Elanna, Janeway e Seven à época e hoje são cientistas e estão retomando o campo de TI, perdido pelas mulheres há tempos, quando rolou a gourmetização da profissão (não sabia que a primeira programadora foi mulher? Google it). Como diria o Obama, “quando você vê um engenheiro ou uma pessoa da área de tecnologia na televisão, uns 90% são homens. Então, se você nunca se enxerga nessa posição, é difícil imaginar: isso é algo que eu poderia fazer”.
Sabe outra coisa que eu amo em “Voyager”? As mulheres são amigas uma das outras. Pergunto: a quem beneficia esse discurso trouxa de que mulheres não podem confiar umas nas outras? Quantas vezes você já ouviu piadinha, viu tirinhas, ouviu anedotas, leu avisos de que deve se cuidar com outras mulheres, porque mulheres são fofoqueiras, traiçoeiras? Pois então, “Voyager” joga tudo isso pelo airlock. Na tela, as minas se ajudam, porque é isso que a gente faz na vida real.
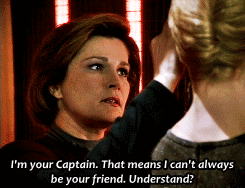
Por tudo isso, a esperança depositada em “Discovery” não parece vã: temos um produtor executivo comprometido com uma tripulação verossímil. Não se trata de cumprir cotas. Metade da população mundial é composta de mulheres. Somente 19% dos humanos do planeta são europeus e norte-americanos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_world#Population_density
Desses 19%, temos um percentual alto de não brancos. Se esperamos um futuro melhor, que seja com mulheres, negros, transexuais, brancos, pessoas com deficiência, seres incorpóreos, alienígenas tendo acesso a qualquer profissão, sem teto de vidro. Isso inclui a Frota Estelar, sim senhor.